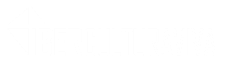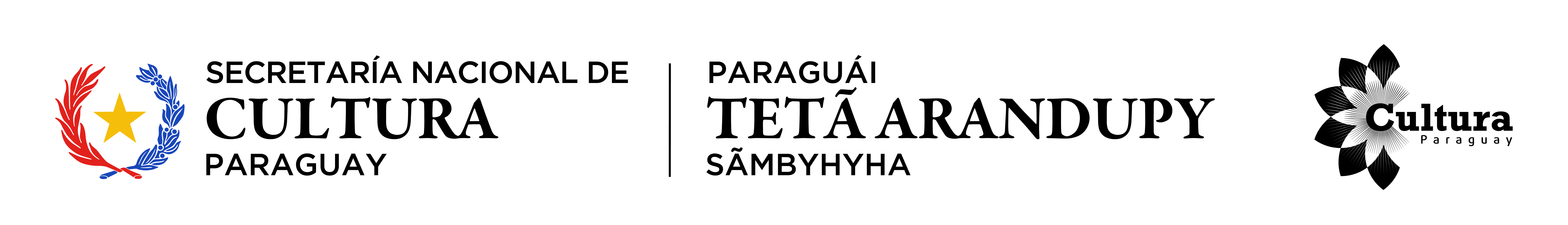Experiencias
Por IberCultura
EnEm 30, nov 2015 | Em Brasil | Por IberCultura
Mãe Lúcia e Associação São Jorge Filho da Gomeia: economia criativa e saber ancestral
Houve um tempo em que mãe de santo era praticamente uma instituição. Mãe Mirinha de Portão, por exemplo, fazia tudo no Terreiro São Jorge Filho da Gomeia, que ela construiu em 1948 em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador (BA). Tudo e mais um pouco. “Era a parteira, a agência de emprego, a conselheira, a psicóloga, a médica, a que dava comida, a que pedia a construção do hospital, o asfaltamento das ruas”, enumera Mãe Lúcia, a Mameto Kamurici, neta de Mãe Mirinha que assumiu a liderança do terreiro e o transformou em associação em 1995.
O Ponto de Cultura Bankoma funciona ali desde 2005. Ali também estão o Museu Comunitário Mãe Mirinha de Portão, a Biblioteca Comunitária Mãe Mirinha de Portão, o espaço Kula Tecelagem, o Centro de Cidadania Digital. Cursos de percussão, fabricação de instrumentos, dança, corte e costura e estética afro são algumas das atividades oferecidas à comunidade. “As oficinas culminam no carnaval, quando o Bloco Afro Bankoma leva para a avenida tudo o que a gente trabalhou durante o ano: a música, a dança, a confecção de adereços, as roupas, a tecelagem, os instrumentos…”, ressalta Mãe Lúcia.
A criação do bloco afro, ela conta, foi para isso mesmo: para dar voz à comunidade e mostrar o que é feito nas oficinas com as crianças, os jovens e os adultos ao longo do ano. Porque eles confeccionavam roupas e adereços, fabricavam instrumentos de percussão, aprendiam coreografias, aprendiam a tocar e cantar… e não tinham onde mostrar. “O carnaval é a nossa grande vitrine”, afirma. “Tanto que a gente faz dois desfiles: um com os jovens na avenida, em Salvador, e outro na comunidade, na Quarta-feira de Cinzas, para a criançada participar.”
O bloco afro
 São 3.500 foliões na avenida. Fora o pessoal da dança, da capoeira, os 100 quilombolas de Senhor do Bonfim (a 375 km de Salvador), as baianas de vários terreiros que saem no bloco também. Na Quarta-feira de Cinzas, tudo se repete no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, com a meninada junto. “Nesse dia, toda a comunidade se veste de Bankoma e vai pra rua. As crianças ficam naquela euforia. Elas adoram. Vai chegando o fim do ano, começam a perguntar: ‘Tia, cadê a minha roupa’? ‘Ainda demora, menino! (risos)”
São 3.500 foliões na avenida. Fora o pessoal da dança, da capoeira, os 100 quilombolas de Senhor do Bonfim (a 375 km de Salvador), as baianas de vários terreiros que saem no bloco também. Na Quarta-feira de Cinzas, tudo se repete no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, com a meninada junto. “Nesse dia, toda a comunidade se veste de Bankoma e vai pra rua. As crianças ficam naquela euforia. Elas adoram. Vai chegando o fim do ano, começam a perguntar: ‘Tia, cadê a minha roupa’? ‘Ainda demora, menino! (risos)”
O “esquenta” começa em novembro, com uma série de shows gratuitos no Pelourinho, no centro histórico de Salvador. Todas as quintas-feiras, de novembro a fevereiro, o Bloco Afro Bankoma faz sua temporada de ensaios na Praça Tereza Batista, com uma feira de música e gastronomia que inclui produtos feitos nas oficinas da Associação São Jorge Filho da Gomeia, em Portão.
Esses shows, batizados de Encontros Mauanda Bankoma, contam com a participação de cantores convidados, como Carlinhos Brown e MV Bill. É com parcerias como essas – Brown, por exemplo, cedeu o estúdio para que eles gravassem agora o segundo CD do Bankoma – que a associação vai desenvolvendo suas atividades.
O início, no entanto, não foi nada fácil. “Como meu pai dizia, na Bahia não tem Senhor do Bom Princípio, só Senhor do Bonfim”, brinca Mãe Lúcia. “Então, como todo início, foi complicado, havia muita relutância. Diziam: ‘Ah, bloco afro…’ Porque tem muita gente ligada em bloco de trio, né? Mas graças às energias, ao universo, a gente conseguiu conquistar as pessoas. Hoje já dizem ‘eu sou Bankoma’. E isso não tem dinheiro que pague.”
Autoestima
 A Associação São Jorge Filho da Gomeia foi fundada em 22 de abril de 1995. E o primeiro curso ali criado foi o de estética afro. “Foi muito no sentido da conscientização, porque a maioria tinha vergonha de andar com o cabelo preso, de usar um torço”, explica Mãe Lúcia. “Esse curso foi importante para a autoestima, para o sentir-se negro e sentir-se bonito. Hoje, a nossa comunidade tem outra cara. As meninas são todas rainhas. Quando vestem as roupas do bloco para dançar, então… Aí que ninguém pode com elas. Só vivenciando para entender. A gente dá roupa toda enfeitada e elas vão lá, com o próprio dinheiro, enfeitar mais (risos).”
A Associação São Jorge Filho da Gomeia foi fundada em 22 de abril de 1995. E o primeiro curso ali criado foi o de estética afro. “Foi muito no sentido da conscientização, porque a maioria tinha vergonha de andar com o cabelo preso, de usar um torço”, explica Mãe Lúcia. “Esse curso foi importante para a autoestima, para o sentir-se negro e sentir-se bonito. Hoje, a nossa comunidade tem outra cara. As meninas são todas rainhas. Quando vestem as roupas do bloco para dançar, então… Aí que ninguém pode com elas. Só vivenciando para entender. A gente dá roupa toda enfeitada e elas vão lá, com o próprio dinheiro, enfeitar mais (risos).”
Depois veio a oficina de capoeira, que resultou no Ponto de Cultura Bankoma. E o terreiro, que em 2004 se tornou patrimônio cultural do estado da Bahia, foi abrindo as portas para mais gente, para mais atividades. “Aqui ninguém faz catequese não. Pode ser de outra religião, ou não ter nenhuma”, enfatiza Mãe Lúcia, lembrando que a grande preocupação sempre foi tirar os meninos da situação de risco. Tem mãe que leva os filhos, tem criança que chega sem os pais. Tem umas que eles nunca viram antes e precisam descobrir onde moram, de onde vêm. “As crianças ficam batendo na grade: ‘Tia, vai ter aula hoje?’ Se o professor não vai, às vezes eu mesma dou aula, invento uma brincadeira, dou mingau. E eles ficam lá.”
Atualmente, o Pontinho de Cultura atende cerca de 30 crianças na faixa dos 6 aos 12 anos. São meninos e meninas que participam de aulas variadas, da dança à inclusão digital, e frequentam a Biblioteca Comunitária. Ali, além de atividades para estimular a leitura, como a contação de histórias, está sendo montado um acervo de livros específicos sobre a história do povo negro. Como diz Mãe Lúcia, “o lado bom da história, da nossa resistência, porque o mais comum é encontrar livros onde somos escravizados, subjugados”.
Patrimônio imaterial
O Museu Comunitário Mãe Mirinha de Portão também é “um bocadinho diferente” dos outros, já que não tem “só a parte das peças expostas” e envolve tudo o que acontece no terreiro e em seu entorno. Assim, a história da comunidade é parte do acervo, o samba de viola, as festas dos pescadores, os ternos de reis, as burrinhas…”A gente coloca os meninos para entrevistar os mais velhos, incentiva eles a ir à casa dos mestres para conversar, para ouvir suas histórias”, conta Mãe Lúcia, que foi uma das lideranças que ajudaram a construir a Lei Griô Nacional.
 A Ação Griô conta com quatro mestres: um na pesca, uma na confecção de adereços, outra na tecelagem e outra na “erva” (nos saberes das folhas, dos chás). Eunice Santos Souza, a Dona Nice, também conhecida como “Véa”, é a artesã dos paramentos. Ela é quem pensa os adereços que a rainha do Afro Bankoma leva em suas indumentárias – e que transmite seus conhecimentos nas oficinas do Ponto de Cultura às novas gerações, incluindo a filha Elienice, griô aprendiz. Mãe e filha fundaram o Oju Omin, um centro de produção de artefatos criativos que tem atraído muitas jovens da comunidade.
A Ação Griô conta com quatro mestres: um na pesca, uma na confecção de adereços, outra na tecelagem e outra na “erva” (nos saberes das folhas, dos chás). Eunice Santos Souza, a Dona Nice, também conhecida como “Véa”, é a artesã dos paramentos. Ela é quem pensa os adereços que a rainha do Afro Bankoma leva em suas indumentárias – e que transmite seus conhecimentos nas oficinas do Ponto de Cultura às novas gerações, incluindo a filha Elienice, griô aprendiz. Mãe e filha fundaram o Oju Omin, um centro de produção de artefatos criativos que tem atraído muitas jovens da comunidade.
O espaço Kula Tecelagem, por sua vez, atua como centro de referência do pano da costa, peça de significado religioso e social, fundamental na composição das roupas dos rituais de candomblé. E com o projeto Tecelagem de Tradição, artesãos são capacitados em oficinas variadas, com ênfase no repasse do saber, no inventário e no aperfeiçoamento de pontos, no aprimoramento de produtos, na gestão e na organização da produção. “Nossa cultura usa o pano para várias coisas, então a gente foi fazer o resgate do pano da costa, foi trabalhar com essa linha, que é mais fina, da linhagem banto”, comenta Mãe Lúcia.
Faz-tudo
Foi com a missão de preservar a cultura afro-brasileira de origem banto que se criou a Associação São Jorge Filho da Gomeia, em 1995. Também para regulamentar um trabalho que na prática existia desde 1948. Mãe Mirinha de Portão (1924-1989) foi quem começou tudo isso, quando comprou o terreno na Avenida Queira Deus e ali construiu o terreiro. Filha de santo de Joãozinho da Gomeia (1914-1971), ela logo virou a faz-tudo da comunidade. Era quem fazia os curativos, os partos, os pedidos de emprego, de asfalto, de escola, de hospital, etc.
 Mãe Mirinha teve uma só filha, que não seguiu seus passos no candomblé, mas teve sete filhos, todos iniciados. Maria Lúcia de Santana Neves, a neta que assumiu a liderança do terreiro, adotou o nome de Mameto Kamurici como mãe de santo. É chamada também de Mãe Lúcia, e de “tia” pela garotada. Ainda que não seja uma “instituição” como a avó – os tempos são outros –, ela corta um dobrado para seguir com os trabalhos na comunidade e manter as oficinas funcionando ao longo do ano.
Mãe Mirinha teve uma só filha, que não seguiu seus passos no candomblé, mas teve sete filhos, todos iniciados. Maria Lúcia de Santana Neves, a neta que assumiu a liderança do terreiro, adotou o nome de Mameto Kamurici como mãe de santo. É chamada também de Mãe Lúcia, e de “tia” pela garotada. Ainda que não seja uma “instituição” como a avó – os tempos são outros –, ela corta um dobrado para seguir com os trabalhos na comunidade e manter as oficinas funcionando ao longo do ano.
“É difícil, é uma luta, mas a gente não desiste não”, afirma Mãe Lúcia. “Com ou sem dinheiro, a gente vai continuar fazendo as coisas. A gente não para porque não tem como. Porque são as coisas que estão no nosso coração, na nossa alma, na nossa forma de estar na vida. A gente não sabe fazer as coisas de outra forma. E é gratificante ver a comunidade junto, os jovens, todo mundo ali ao redor, a força que isso tem.”
(*Texto publicado em 30 de novembro de 2015)
Saiba mais:
https://afrobankoma.blogspot.com.br/
Contato: bankomaportao@gmail.com
Assista ao vídeo da TV Escola sobre o Museu Comunitário Mãe Mirinha de Portão: https://bit.ly/1QPr1Ci
Por IberCultura
EnEm 22, set 2015 | Em Brasil | Por IberCultura
Casa de Cultura Fazenda Roseira: um espaço de encontro e resistência em Campinas
Campinas não é uma cidade só. São várias as cidades que se encontram e desencontram naquela que foi uma das últimas do Brasil a abolir a escravidão. Sua organização espacial deixa clara a diferença da realidade de uma região para outra. De um lado da Rodovia Anhanguera estão as melhores escolas, os equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer. Do outro, as ausências.
“Campinas nos impõe definir desde muito cedo de que lado você vai sambar, de que lado você vai caminhar”, afirma a historiadora Alessandra Ribeiro Martins, doutoranda em urbanismo e gestora da Casa de Cultura Fazenda Roseira. “Há um território, uma divisão espacial, muito expressiva. A cidade foi sendo desenhada e a população foi sendo colocada no lugar que alguns achavam que era adequado. A vida de quem está de um lado da Anhanguera é bem diferente da de quem está do outro.”
Essa divisão, segundo Alessandra, fez com que muita gente ficasse excluída no campo das políticas públicas culturais e, ao mesmo tempo, percebesse logo que tinha dois caminhos a seguir: ou se reconhecia como um todo para tentar buscar melhorias ou ficaria abandonada à margem. “É quase impossível encontrar um campineiro que não ame Campinas. Mesmo que ele tenha muitas dificuldades, ele ama o lugar. E se ama, ele se apropria do lugar.”
Ocupando territórios
Na região noroeste, periferia de Campinas, um espaço de encontro, educação ambiental e cultura afro foi organizado em 2008 como referência agregadora na cidade: a Casa de Cultura Fazenda Roseira. O casarão, construído no fim do século 19, era a sede de uma fazenda que, à beira da destruição, foi transformada em equipamento público em 2007. Essa fazenda cafeeira deu origem a três bairros de Campinas: o Jardim Roseira, a Vila Perseu Leite de Barros e o Jardim Ipaussurama.
A Casa de Cultura fica no Jardim Roseira e desde 2008 é ocupada e gerida pela Comunidade Jongo Dito Ribeiro, com organizações parceiras. Ali, no terreiro da casa grande, são desenvolvidas várias atividades que reconstituem a cultura ancestral do jongo, “saravando quem chegou primeiro” e estreitando os laços com a comunidade.
Além das rodas de jongo, há festejos, arraiais, feijoadas de resistência, rodas de capoeira, projetos com os mais velhos, projetos com os mais novos, discussões sobre tecnologia, discussões sobre ancestralidade. O objetivo, segundo eles, “é reescrever e escrever a história do jongo em Campinas de modo a possibilitar que a manifestação cultural seja expandida e respeitada nas suas mais variadas formas.”
Com descontração, alegria, afeto e boas energias, essa comunidade liderada por mulheres negras – entre elas, Alessandra Ribeiro – trabalha desde 2002 para manter viva a chama do jongo, levando as rodas de toque, canto e dança aos mais diversos espaços (de quilombos a universidades), para pessoas de diferentes idades, profissões, credos e etnias.
Patrimônio imaterial
Em 2005, o Jongo do Sudeste foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural brasileiro de natureza imaterial. Sua origem, no entanto, é definida de maneira antagônica por duas correntes. A mais recente defende que o jongo resulta do contato entre os escravos e os donos da terra, no século 19, na área cafeeira do Sudeste brasileiro. A outra afirma que ele veio da África, da região do Congo/Angola, e chegou ao Brasil com os negros bantos que trabalhavam nas lavouras.
Considerada uma espécie de “pai do samba”, essa manifestação cultural conta com três elementos essenciais: o canto, a dança e a percussão. No canto, os chamados “pontos” misturam metáforas e dialetos da língua banto. Os tambores, fabricados em sua maioria de maneira artesanal, também carregariam em si um vínculo com os ancestrais.
Dias de festa
Na Casa de Cultura Fazenda Roseira, onde a Comunidade Jongo Dito Ribeiro se encontra desde 2008 (antes o grupo se reunia no quintal da casa de Alessandra), as rodas de jongo são semanais, abertas a quem quiser participar. Nelas, os praticantes trocam experiências e saberes, dialogam e aprendem sobre o jongo e suas formas de tocar, cantar, tirar pontos e dançar.
Uma vez por ano, no terceiro domingo de março, a Feijoada das Marias do Jongo homenageia as mulheres da comunidade com uma festa entre parceiros, amigos e a população em geral. Os convites, vendidos a preços populares, ajudam a arrecadar fundos para a comunidade. O público médio é de 1.000 pessoas.
No segundo sábado de julho, é a vez do Arraial Afro Julino, festa iniciada com terço a São Benedito e seguida de apresentações artísticas de grupos do estado de São Paulo. Além de fogueira, barracas de comidas típicas e artesanato, é armada uma grande roda com a presença de comunidades de jongo, como a do Tamandaré (Guaratinguetá, SP), madrinha do Jongo Dito Ribeiro. Cerca de 3 mil pessoas participam do evento, que cobra como entrada 1kg de alimento não perecível. A comida arrecadada é destinada ao banco de alimentos da Prefeitura de Campinas.
Em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a comunidade realiza uma roda em frente à Igreja São Benedito, onde Dito Ribeiro dedicou sua devoção em torno da imagem da Mãe Preta. Também em novembro, a Casa de Cultura realiza a mostra Sou África em Todos os Sentidos. São 20 dias de exposição, debates, exibição de filmes e trocas de saberes sobre a presença negra.
A cada festa, a cada encontro, lá estão todos de mãos dadas, Alessandra a puxar o coro, fazendo todo mundo repetir: “Eu pego a sua mão na minha / Para que juntos possamos fazer / Aquilo que eu não posso fazer sozinho”. Uma vez mais, e outra, e outra, e todos se sentem unidos na cidade dividida. Saravá.
(*Texto publicado em 22 de setembro de 2015)
Leia também:
Alê, a jongueira que fez a família voltar a tocar tambor
“O Jongo da Casa Grande”, por Alessandra Ribeiro Martins
Saiba mais:
https://comunidadejongoditoribeiro.wordpress.com/
Por IberCultura
EnEm 22, set 2015 | Em Brasil | Por IberCultura
Alê, a jongueira que fez a família voltar a tocar tambor
Alessandra Ribeiro Martins é descendente de uma das maiores famílias negras de Campinas (SP). Uma família diferente da maioria das famílias negras porque nunca teve um alto grau de vulnerabilidade. Ainda que seus antepassados tenham vivido como escravos naquela região, ela sempre teve educação e cultura como elementos fundamentais na organização familiar. Isso desde os tempos da tataravó. “Hoje faço doutorado, e não faço mais do que a minha obrigação, porque tenho outras referências de acesso ao espaço acadêmico, um tio médico, um tio advogado…”, afirma.
Os valores inseridos nesse processo de organização familiar, entretanto, nunca foram os valores das culturas de tradição, das culturas de matriz africana. “Tudo o que tinha a ver com terreiro, com tambor, era guardado no quartinho”, lembra Alê. “Desde cedo eu sei o que é tomar passe, desde cedo a gente tem uma relação com a espiritualidade, mas isso ficava ali guardado. Fora do quartinho, todo mundo ia à igreja, todo mundo era católico apostólico romano.”
Era assim até uns anos atrás. Era assim até ela se dar conta de que havia nascido “meio diferente”, com a missão de trazer de volta à família a beleza da cultura afro-brasileira, com o compromisso de cuidar de uma tradição que andava adormecida. “O jongo chegou na minha vida com tanta amorosidade que foi contaminando todo mundo”, conta. “Rapidamente, as pessoas já estavam nos tambores de novo, mesmo sem saber por que tinham esquecido de batê-los.”

Alessandra na Vila de São Jorge (GO), no Encontro da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Foto: Oliver Kornblihtt
Em nome do avô
O jongo veio do avô Benedito, o “Dito”, que chegou a Campinas na década de 1930, vindo do interior de Minas Gerais. Era o único da família a se interessar por aquela manifestação cultural que unia elementos de dança, canto e percussão. “Depois que ele morreu nunca mais ninguém fez nada”, afirma Alê.
Foi em busca da história do avô que ela começou a circular pela vida cultural de Campinas, atrás daqueles que também tocavam tambor, daqueles que trabalhavam com culturas populares, com culturas de matriz africana. Foi em homenagem ao avô que batizou o grupo formado no quintal de casa, em 2002, como Comunidade Jongo Dito Ribeiro.
“Instintivamente, fui buscando me fortalecer, vendo que universo era aquele em que as pessoas tratavam a cultura não como mais um elemento da vida, mas parte efetiva dela”, diz. “Hoje, tudo o que faço no universo cultural da minha comunidade é o que faço na minha vida. E esta vida de cultura vai me levando aos espaços. Fui para a academia por conta do jongo.”
Cultura e política
Querendo entender por que a família havia parado de tocar tambor, Alê entrou na faculdade de História em 2005, aos 26 anos. “Eu tinha uma certa raiva guardada, pensava: ‘minha família abandonando a tradição, que coisa horrível!’ Foi lá na faculdade que entendi que existem politicas, que existe um pensamento mais global que vai envolvendo toda uma população, toda uma nação, que vai incutindo valores e formas de olhar pras coisas…
Quando fui entendendo isso, e que isso é feito na prática, no escrever e no pensar sobre a cultura, eu comecei a caminhar no lado mais político da cultura, a tentar fazer algo para ter representação.”
Em 2008, numa decisão política, a Comunidade Jongo Dito Ribeiro saiu do quintal da casa de Alessandra e foi para o espaço público da Fazenda Roseira, na região noroeste de Campinas. “Foi aí que comecei a entender que mais do que participar da política, é importante a gente intervir nela. Não é porque alguém um dia escreveu um papel que aquilo estava certo que aquilo não possa estar equivocado. Nós somos humanos, erramos. Então, mais do que acusar que aquilo estava errado, eu sempre me coloquei como alguém que queria contribuir, que queria buscar outras formas.”
Protagonismo
Liderança da Comunidade Jongo Dito Ribeiro, gestora da Casa de Cultura Fazenda Roseira, Alessandra hoje é doutoranda em urbanismo pela PUC-Campinas. Com experiência de pesquisa em cultura negra, território e identidade, é também representante do Grupo de Trabalho de Patrimônio Imaterial na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura.
“Tudo que olho sobre território, sobre população, eu olho como alguém que cresceu desprovida da afirmação de que o que tinha guardado dentro de si era importante. E que passa a entender a importância de um movimento politico, cultural, de empoderamento, de encontro com outras pessoas”, ressalta.
O programa Cultura Viva, segundo ela, teve papel fundamental nessa mudança de olhar. “Ele possibilitou que centenas de milhares de pessoas no Brasil entendessem que aquilo que elas faziam era importante”, afirma. “Além de possibilitar um diálogo com outras pessoas que faziam o mesmo, mostrando que juntos ganhamos força, o Cultura Viva nos trouxe autoestima. Falar que somos protagonistas, que temos autonomia, que aquilo que estamos fazendo no nosso quintal é importante para o Brasil, porque é importante para o coletivo, isso foi fantástico, uma mudança de paradigma.”
(*Texto publicado em 22 de setembro de 2015)
Leia também
Casa de Cultura Fazenda Roseira: um espaço de encontro e resistência em Campinas
“O Jongo da Casa Grande”, por Alessandra Ribeiro Martins
Por IberCultura
EnEm 21, set 2015 | Em Brasil | Por IberCultura
Mestra Doci e o Olho do Tempo: uma história de compromisso
No dia em que Maria dos Anjos Mendes Gomes abriu o contracheque e viu que finalmente tinha dinheiro para ir embora, ela foi à rodoviária de Salvador e perguntou ao despachante: “Qual o lugar mais calmo do Nordeste?”. “João Pessoa. Só tem ônibus pra lá duas vezes por semana e ele vai vazio”, respondeu o homem. Ela tinha pensado ir para o Maranhão, sabia que lá havia um projeto interessante numa universidade, mas foi ali mesmo, diante do balcão da rodoviária, que decidiu seu destino: Paraíba.
“Comprei a passagem e fui para casa com aquela bomba-relógio dentro de mim. Minha mãe quase morreu. Meu pai perguntou: ‘É o que você quer? Se é, então vá com Deus’. E fui embora para João Pessoa, sem conhecer ninguém”, lembra a mestra contadora de histórias, que já foi Maria, Mara, Lia, Dos Anjos, Dusa, e ultimamente atende mais por Doci. “Coloquei num papel todos os nomes por que me chamavam e sorteei. Deu Doci”, justifica.
Doci por conta de um papelzinho, baiana por conta da cegonha e paraibana desde o dia em que entrou naquele ônibus, em 1979, a fundadora da Escola Viva Olho do Tempo há mais de uma década faz um belo trabalho no Vale do Gramame, na área rural de João Pessoa. É referência para muita gente, querida e respeitada na região. Poderia, no entanto, ter construído a vida em qualquer outro lugar. “Eu tinha um compromisso comigo mesma”, conta. “Sempre soube que não morreria no lugar onde nasci.”
A carta
Nascida e criada na região de Alagados, em Salvador, mais velha de oito filhos, ela ainda era menina quando ouviu da mãe que “pobre não sonhava tanto”, que tinha era que trabalhar em vez de ficar lendo Castro Alves. Como não podia reclamar com a mãe, escreveu numa carta seu plano de vida. Disse para a mãe que lhe daria 15 anos, que ela fizesse o que quisesse dela nesse tempo, mas que depois iria embora, inclusive para ensinar a meninas como ela que sonhar era preciso. Escreveu, mas não entregou. Guardada dentro de um livro, a carta acabou esquecida.
Doci tinha uns 13 anos quando escreveu seu plano de vida. Logo em seguida, pediu ao pai, barbeiro, que lhe ensinasse a sua arte para que ela pudesse ganhar dinheiro e continuar com os livros. Demorou um pouco a convencê-lo (“Era um ofício masculino e eu estava ficando mocinha, ele achava que eu teria problemas”), mas conseguiu. Em casa mesmo, ela cortava cabelos dos meninos aos sábados e domingos. Durante a semana, seguia estudando. “E assim fiz universidade, passei em concurso público. Um dia recebi meu contracheque e vi que estava rica. Aí me sentei lá no Campo Grande e veio aquela intuição: ‘Olha, agora você pode ir embora’.”
E ela comprou a passagem e foi para João Pessoa sem conhecer ninguém. Para a mãe, disse que ia estudar. Formada em Letras pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), matriculou-se num curso de educação de adultos logo que chegou à capital paraibana. Fez mestrado, mandou o título para a mãe. Com o dinheiro que havia juntado, comprou parte de uma escola, chamada Catavento.
Trabalhar com crianças era tudo o que queria, embora tivesse feito mestrado na área de educação de adultos. “Não sou boa com velhos”, ri a mestra. “Não sei lidar com velho, não, prefiro rabujada de criança. Criança é tudo de bom. E velho junto de menino é a melhor coisa que existe. Eles te puxam pra vida, te mostram o mundo. É a coisa mais linda. Minha missão é cuidar das crianças para que elas sejam pessoas melhores. Melhores para elas mesmas, porque assim o mundo ganha.”
A missão
Quando chegou a João Pessoa, Doci foi morar no bairro Castelo Branco. Depois se mudou para Bancários. E ali foi fazendo a vida, comprou casa, carro, terreno. Um dia, lá pelos 50 anos, encontrou em casa um daqueles livros baratinhos que lia quando adolescente na Bahia. “Abri o livro e lá estava a carta. Olhei pra ela, ela olhou pra mim, olhei pro céu e pensei: ‘Vixe Maria, que responsabilidade de vida’. Porque palavras ditas ao tempo são palavras que precisam ser respeitadas, né?”
Doci sabia que tinha ainda uma missão a cumprir. “Decidi vender tudo e procurar um lugar onde houvesse crianças parecidas com as da minha infância”, conta. Acabou encontrando o que buscava no Vale do Gramame, entre os municípios de Conde e João Pessoa. A área não era das melhores, cheia de buracos, mas tinha algo que era muito caro à mestra: nascentes. “Olhos d’água”, como ela diz. Como o que havia em Alagados antes de um político convencer a população da região de que eles deviam aterrar o mar e construir suas casas em terra firme, não em palafitas.
“Foi um dos piores momentos da minha existência”, recorda Doci. “Me criei correndo em cima de ponte, pra cima e pra baixo, caindo muitas vezes dentro d’água. Quando aquele político resolveu que devíamos ‘entulhar’, todo o lixo da cidade de Salvador foi pra lá. (…) Foi muito violento ver matarem o olho d’água. Era ali que eu pensava na vida, me alegrava e me desesperava. Eu contava minhas histórias para aquele olho d’água, que secava e enchia junto com a maré. E ajudei a aterrar aquele lugar, que era tão vital pra mim.”
Quando encontrou os olhos d’água no Vale do Gramame, ela viu uma oportunidade de quitar seu “débito com o cosmos”. E decidiu cuidar daquelas nascentes (há oito no terreno que comprou) para que elas pudessem alimentar muito mais gente. “Ali eu vi que tinha dois compromissos na vida: um com a natureza, outro com a natureza humana”, afirma. Ali ela viu que tinha que ensinar às pessoas que sonhar é preciso, que é algo inerente ao ser humano. E que transformação não vem de fora. “É pessoal e intransferível”, ressalta. “Como dizia minha avó, não escolhemos o lugar onde nascemos, mas podemos escolher onde morrer. E entre nascer e morrer, passa muita água. Por isso, aprenda a nadar e vá embora. É assim que você faz sua transformação.”
Os sonhos
Em torno dos olhos d’água nasceu a Escola Viva Olho do Tempo (na razão social, Congregação Holística da Paraíba), associação sem fins lucrativos que desde 2004 desenvolve ações com os moradores de oito comunidades da região. Com capacidade para atender 150 crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, a escola procura despertar nos moradores do entorno o direito de sonhar, o sentimento de pertencimento ao seu espaço, a religação com a natureza, a valorização dos bens naturais e culturais, a busca pelo autoconhecimento.
O trabalho começou com rodas de conversas nas comunidades, onde as pessoas tinham muitas necessidades e poucos sonhos. Um grupo de mulheres, homens e crianças se reunia duas ou três vezes por mês para falar da vida, para ler, para pensar junto, “numa construção coletiva do fazer, do ter cuidado com a gente para poder cuidar do outro”, como diz a mestra.
Ali, no “início e no fim do mundo”, ao lado das áreas remanescentes de quilombos, perto da estrada por onde todos passam para ir embora, aos poucos eles foram construindo os dois prédios da escola. E aos poucos foi se construindo um projeto. “Eu me sentei ali e disse: ‘Vamos fazer o que vocês querem’. Vieram os jovens, as crianças, e eu perguntava: ‘Quer fazer o quê?’ ‘Ah, informática’ ‘E você?’ ‘Quero jogar xadrez’. E assim começamos a escola. Com esses fazeres, com esses desejos”, conta.
Muitos dos meninos que lá começaram participando das atividades logo se tornaram jovens educadores sociais. E hoje são responsáveis por formar os meninos que ali chegam. “Eles não sabiam nada das teorias e eu trabalhava com eles os pensadores, sem que eles soubessem os nomes. Cinco, seis anos depois, uma delas foi fazer uma pesquisa e chegou em Paulo Freire. E veio me perguntar: ‘Mas então o que você está fazendo aqui é Paulo Freire?’ ‘É’. E aí eles começaram a estudar Paulo Freire, depois de uns tantos anos de prática.”
Os mestres
Ação griô foi outra pedagogia que tinha tudo a ver com o que eles faziam. “Aí eu tive que lidar um pouco com os velhos”, brinca Doci, que é representante da Comissão Nacional de Griôs e Mestres. Ajudar a construir a Lei Griô nacional, segundo ela, foi uma das coisas mais importantes que fez na vida.“É nisso que acredito, no ir lá e conversar com o mestre, trazer o mestre pra cena, sem intermediários”, afirma. “Fizemos coisas lindas aqui. E sempre no quintal dos mestres, para que as crianças saibam que hoje são crianças e amanhã serão velhos. E que podem ser uns velhos melhores.”
Hoje a escola tem um museu, uma estação digital, um projeto de ecoturismo, outro de reflorestamento, um grupo de percussão com 63 crianças e adolescentes, aulas de dança, de capoeira, e algumas atividades que variam conforme o calendário. No primeiro semestre de 2015, eles fizeram uma “gincana de pé”, para “pensar com os pés”, para trabalhar o ganhar e o perder jogando futebol, bola de gude, peteca, corda, amarelinha. Agora, é a vez do campeonato mental, de trabalhar o ler, o pensar e o escrever.
“A gente trabalha muito com a potência do sonho de cada um”, reforça a mestra. “Porque é o sonho que mantém as pernas no chão. É preciso olhar os pés e olhar o céu. Entre o céu e a terra está você, com o coração batendo. O coração está no meio, jogando o sangue para a cabeça e para os pés.”

O bailarino Ednaldo Santos, que entrou na Evot aos 6 anos, hoje é aluno da Escola Bolshoi, em Joinville. Foto: Thiago Nozi
Ednaldo Santos, por exemplo, era um menino que nas rodas de conversa sempre falava do sonho de ser bailarino. Quando entrou na Olho do Tempo, ele tinha 6 anos. Hoje, aos 12, é aluno da Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville (SC). Assim como ele, há vários ali que vêm realizando seus desejos, seja aprendendo, seja ensinando. Tem menino que virou músico, professor de matemática, de fisica… Alguns, inclusive, têm seus empregos e atuam hoje como voluntários na instituição.
“É uma gestão realmente compartilhada”, destaca Doci. “Se a menina que varre o chão disser que o que estou dizendo não serve, não serve. Eu vou defender minha opinião, porque acho que é minha missão fazer com que ela pense e desafie alguém maior do que ela. Vou até as tripas dela darem um nó. Depois a gente vai pro beijo e pro abraço. Entrego a batuta pra ela e vou embora.”
Doci vendeu tudo o que tinha para cumprir seu compromisso com o tempo. Sorteou um nome para usar nessa vida que recomeçou aos 50 anos e diz que não reclama de nada não. “A vida é uma coisa boa. É uma dádiva maravilhosa reencontrar as pessoas, poder resolver coisas, poder dar um abraço. É assim que penso. Construí esse patrimônio maravilhoso, mas ele não me pertence. Minha família sabe que isso pertence ao tempo. E é o tempo que vai gerenciar isso quando eu subir minha ladeira.”
Assista ao vídeo em que Mestra Doci conta sua história
(*Texto publicado em 21 de setembro de 2015)
Leia também:
Penhinha, a menina que aprendeu a voar
Conheça mais:
www.olhodotempo.org.br
https://www.facebook.com/olhodotempoescolaviva/
Por IberCultura
EnEm 27, ago 2015 | Em Brasil | Por IberCultura
Mestre Brasil, o griô que leva a capoeira a 25 comunidades de Caxias do Sul
Mestre Brasil lembra o dia em que foi convidado para participar de uma reunião nada habitual. Ao lado dele estavam dois delegados de polícia, um sargento, um coronel. O assunto? Poluição sonora e homicídios. Intrigado, comentou com um colega: “Não sei o que estou fazendo aqui”. Papo vai, papo vem, o delegado falava sobre a diminuição de assassinatos na região, até que o coronel interveio: “Concordo com tudo, mas isso também é graças àquele cara que está sentado ali. Por isso o convidei. Porque é ele quem está na zona periférica, onde a polícia não tem acesso”. E era por iniciativas como a dele que a violência começava a diminuir em algumas comunidades de Caxias do Sul (RS).
“A gente levou o Cultura Viva, a capoeira, para dentro das escolas de comunidades aonde a polícia não tinha acesso”, conta o mestre griô. “Um mês depois a polícia estava lá. E jogando capoeira com as crianças. Colocamos o policial para jogar porque ele é da sociedade também. Ele sabe que não é bem-visto, sabe que às vezes a sociedade tem razão, às vezes não. Mas o Cultura Viva vem fazendo essa diferença, vem impactando a educação, a segurança pública.”
Nascido em Vacaria (RS) há 55 anos, morador de Caxias do Sul desde 1976, Diógenes Antônio de Oliveira Brasil começou na capoeira em 1979. Cinco anos depois, já ensinava a prática aos meninos da comunidade onde vivia. “Não vivo de capoeira, mas a gente conseguiu montar um sistema de trabalho que junta cultura com educação social. Tem criança que começou comigo com cinco anos, hoje tem 30 e está reproduzindo o trabalho”, comemora.
Em Caxias do Sul, onde o primeiro registro de capoeira remonta a 1967, Mestre Brasil atua em dois Pontos de Cultura. O mais antigo é o Grupo de Capoeira Conquistadores da Liberdade, que atende cerca de 2.500 pessoas, de 5 a 60 anos, em 25 bairros da cidade. Como não tem sede própria, o ponto leva aos centros comunitários as aulas de capoeira, dança afro e atividades afins. Já o mais recente se chama Raízes da Vida e oferece a cerca de 300 pessoas oficinas variadas, desde capoeira até hip hop e circo.
Ainda que tenha dificuldades com a prestação de contas e que 80% dos recursos que receba não venham do Cultura Viva — são das parcerias que faz com outras entidades, oferecendo formação aos guris da vila –, Mestre Brasil é enfático quando fala do programa, transformado em política de Estado em 2014. “O Cultura Viva faz muita diferença mesmo. É um conceito de politica pública simples e eficaz, que vai revolucionar o país.”
Intercâmbio
Além do trabalho que faz no Rio Grande do Sul, Mestre Brasil mantém um projeto de intercâmbio cultural com o Uruguai desde 2005. São seis as cidades do outro lado da fronteira em que ele atua: Montevidéu, Rivera, Tranqueras, Tacuarembó, Maldonado e Salto. “Já tinha capoeira lá quando cheguei. Mas como lá tinha muita história de drogadição, e a gente vinha fazendo um trabalho antidrogas, o pessoal começou a se aproximar”, conta.
Apaixonado por história, começou a estudar a história afro-uruguaia (num bate-bola com um historiador uruguaio, que foi estudar a história afro-brasileira) e conhecer um pouco mais da cultura deles, do candombe, da capoeira local. Em Rivera, por exemplo, teve a alegria de mudar o rumo da história de um dependente químico que hoje faz o processo reverso. Em Maldonado, pôde ver o dia em que os meninos da periferia foram assistir a um espetáculo num dos famosos cassinos da vizinha Punta del Este.
Cultura da paz
A capoeira que ele pratica é a do Mestre Índio, do Mercado Modelo de Salvador. Por meio dela, Mestre Brasil trabalha a cultura da paz, enfatizando questões como a valorização da família, da cultura afro, o combate ao preconceito e à intolerância. “Nosso primeiro ensinamento diz respeito à relação com os pais. Porque todo filho, para nós, tem que ter amor pelos pais. Ele pode não conhecer a mãe, pode não conhecer o pai, mas a gente tenta resgatar, fortalecer os vínculos familiares. Com o tempo fomos percebendo que isso faz uma diferença na vida deles e acabamos entrando para dentro das famílias.”
A dinâmica funciona mais ou menos assim: “Sentado em círculo com as crianças, começo a contar que quando a mãe soube que ficou grávida, ela se preocupou com os vícios que tinha, com a comida. Conto que só por saber que estava grávida, ela tinha toda uma preocupação, ela sonhava… Coloco isso para que os filhos vejam que devemos um favor aos pais, para que a gente saiba compreender e amar os pais como eles são”.
Para chegar a essa conclusão e juntá-la ao trabalho que já fazia com a capoeira, o mestre conta que fez uma longa pesquisa. Durante 10 anos, conversou com presidiários, com prostitutas, com gente que enfrentava sérios problemas na vida e parecia culpar o pai ou a mãe pelo que passava. E que no final acabava se dando conta de que, ao contrário do que pensavam, o que havia faltado era amor pelos pais. “Testei em mim primeiro. Procurei meu pai e fui agradecê-lo por ser meu pai. E agradeci a minha mãe por ser minha mãe. Isso dá paz interior”, ensina.
Já faz uns 20 anos que ele ensina às crianças a importância do amor pelos pais. “É uma experiência que deu certo”, garante o mestre, adepto da cultura da paz desde sempre. “Acho que ninguém deve passar por aqui sem deixar marca. Por isso fui fazer um trabalho social (…) pensando na cultura como moeda de valor simbólico, para a pessoa poder se aproximar. Acabei formando várias pessoas que hoje vivem só de capoeira. Alguns foram para a música, outros para o teatro. Ou para a pacificação social. É muito gratificante.”
(*Texto publicado em 27 de agosto de 2015)
Por IberCultura
EnEm 27, ago 2015 | Em Brasil | Por IberCultura
Mãe Isabel e a Grife Criolê: economia que transforma
Em Hortolândia, na região de Campinas (SP), um empreendimento solidário há 10 anos vem abrindo caminhos: a Grife Criolê, criada por Isabel Cristina Alves, a Mãe Isabel. A marca de roupas, que começou com o nome de Capadócia (em homenagem a São Jorge), é uma das ações do Ponto de Cultura Caminhos, ao lado do grupo de dança afro Oju Oba, do bloco de afoxé Oya Obirin Ode, e de vivências e oficinas que exploram a diversidade cultural das comunidades de terreiros.
Nascida no Rio de Janeiro, há 34 anos morando no estado de São Paulo, Isabel sempre teve afeição pelo trabalho alternativo. “Os moldes do trabalho capitalista nunca me fascinaram”, afirma a artesã, técnica em estilismo e modelagem, que em 2003 descobriu a economia solidária e com ela realizou o sonho de fazer moda de maneira criativa, expressiva, valorizando a cultura de matriz africana.
“Em 2003, a administração petista de Hortolândia estava incentivando a constituição de cooperativas. Como eu fazia parte da associação dos artesãos, fui convidada a participar da diretoria e aí começamos um trabalho de política pública, por parte da sociedade civil, pela economia solidaria”, conta.
Fascinada pela estratégia de desenvolvimento e geração de renda, ela levou a proposta para o terreiro onde seu grupo já vinha trabalhando questões como autoestima e resgate da cultura do negro. “Até então eu tinha minha produção individual”, diz. “Na ONG a gente lidava muito com adolescentes, e atrás deles vinham as mães, as famílias, e a necessidade de fazer uma assistência. E a gente entendeu que fomentar o trabalho da geração de renda era uma assistência mais pragmática.”
Assim, foram criadas duas unidades de negócios. Uma delas, coordenada por Mãe Eleonora (Eleonora Aparecida Alves, presidente do Ponto de Cultura Caminhos), é o grupo de alimentação, que trabalha com comida baiana e tem o acarajé como carro-chefe. A outra é a Criolê, coordenada por Mãe Isabel. “A grife foi criada por mim, mas com base no trabalho coletivo instrumentalizado pelas formações, pelos conceitos da economia solidária”, ressalta.
Da associação de artesãos de Hortolândia, Isabel passou a integrante da comissão de economia solidária do município, depois da região de Campinas, depois do estado de São Paulo. Em 2005, ingressou no Fórum Paulista de Economia Solidária, onde faz parte da coordenação executiva até hoje. Dali seguiu para o Fórum Nacional, sendo por duas vezes membro do Conselho Nacional de Economia Solidária. Saiu do conselho porque a última eleição coincidiu com uma tragédia pessoal — em 2014, ela teve um filho morto (em circunstâncias ainda sob investigação). Ainda assim, faz parte da rede nacional de formadores de economia solidária e tem um trabalho ativo na área.
Valores
A casa presidida por Mãe Eleonora se transformou em Ponto de Cultura em 2010, mas as atividades da grife já vinham sendo ali desenvolvidas com base no trabalho das bordadeiras, dos artesãos, das comunidades tradicionais. Hoje, a produção da Criolê é vendida em feiras, eventos e encontros e pela página do Facebook da grife (fb.com/griffe.criole).
Apostando em cores, imagens, temáticas e símbolos afros, a grife tem como proposta valorizar a cultura de matriz africana, elevar o nível de conhecimento e da autoestima da população afrodescendente, despertar o senso crítico e a importância dos valores sociais, além de estimular e fomentar a capacitação dos jovens de vulnerabilidade econômica.
“É preciso qualificar, pensar em desenvolvimento de produtos, pensar no acesso ao mercado, porque o que aí está é o mercado selvagem, capitalista. Nós produzimos de outra forma e precisamos criar esse mercado”, destaca Isabel. Ela também critica a falta de sensibilidade, por parte do Estado, para a realidade do artesão, o que muitas vezes inviabiliza a formação de profissionais qualificados.
“O mercado de vestuário hoje oferece 7 mil reais para uma costureira piloteira (responsável pela primeira peça, a peça-piloto), por exemplo. Mas é uma profissional que não se consegue encontrar porque a qualificação geralmente é cara e exige formação em ensino médio”, explica. “Nós temos o viés de qualificar uma piloteira mesmo que ela tenha apenas o ensino fundamental. Provocamos essas mulheres – geralmente são mulheres acima de 40 anos, arrimo de família, criando filhos e netos –, induzimos elas a voltar à escola, mas não deixamos de qualificar. Este é um trabalho que fazemos a duras penas.”
Empoderamento
Isabel acredita na cultura como instrumento de empoderamento, como algo que pode interferir sim na vulnerabilidade social, no combate ao preconceito. “Hoje estamos vivendo uma onda de ódio explícito. O genocídio está explícito, mas sempre existiu. Nós, negros, sempre convivemos com isso. A injustiça social sempre existiu”, afirma. “Quando a cultura consegue empoderar seus atores e garantir uma ação social, é uma interferência muito positiva. Eu acredito muito no empoderamento.”
Em 2014, ela participou de um projeto de formação e qualificação para mulheres presidiárias. Levou a 12 penitenciárias do estado de São Paulo o conhecimento que adquiriu nesses anos de trabalho com economia solidária. “Minha grande satisfação foi saber que posso ter esperança nessas mulheres, ainda que estejam presas e com penas grandes”, comenta. “Elas me perguntavam: ‘Mas eu posso ser uma empreendedora?’ Hoje, me comunico com algumas que já saíram. Elas dizem: ‘Olha, vou montar um petshop, a senhora não poderia me ajudar?”
Isabel sabe que é assim, com ações “pequenininhas”, que a economia solidária demonstra seu grande papel. “Ela ainda não dá conta, tem gargalos. Mas é transformadora. A economia solidária nos oferece um novo caminho.”
(*Texto publicado em 27 de agosto de 2015)
(** Mãe Isabel morreu em 8 de junho de 2018)
Assista ao vídeo do desfile da Criolê
Saiba mais:
www.pontodeculturacaminhos.blogspot.com
www.flordodende.blogspot.com
Por IberCultura
EnEm 19, ago 2015 | Em Brasil | Por IberCultura
Penhinha, a menina que aprendeu a voar
Penhinha aprendeu a voar com Mestra Doci dos Anjos. Moradora da comunidade quilombola de Mituaçu, na Paraíba, negra por parte de pai, indígena por parte de mãe, a menina registrada como Maria da Penha Teixeira de Souza tinha 13 anos quando conheceu a Escola Viva Olho do Tempo (Evot), na zona rural de João Pessoa. Interessada nos cursos e nas quadrilhas que a escola vinha organizando com os jovens da região, ela entrou na roda e deu o salto. Hoje, aos 23 anos, é educadora social, griô aprendiz, coordenadora do museu e da biblioteca Olho do Tempo. “Minha mestra empurra a gente do penhasco, ela bota a gente para voar”, conta.
Doci, a mestra griô que coloca a garotada da Olho do Tempo para voar, foi uma das lideranças que participaram ativamente do processo de construção da lei Cultura Viva no Brasil. “Ela estava sempre nas discussões, e sempre dizia que a gente também precisava dialogar sobre o que a gente conhecia”, diz Penhinha. “Hoje, é a gente que vai (aos encontros de Cultura Viva). Com frio na barriga, do jeito que for, a gente vai e representa, com a missão de retornar pra casa e compartilhar o que trouxe na bagagem.”
A caminhada de Penhinha começou em 2005, quando a Escola Viva Olho do Tempo organizou três quadrilhas com 40 jovens para percorrer o Vale do Gramame, numa festa itinerante que visava fortalecer as tradições e a auto-estima dos moradores da região. “O São-joão rural veio para integrar as comunidades, que estavam distantes umas das outras e num processo de adormecimento”, explica.
Primeiros passos
Quando começou a frequentar a instituição, a menina estava de olho num curso de corte e costura, num de doces e num outro chamado “jovens empreendedores”. A quadrilha contribuiu para o interesse, já que o pessoal se encontrava todos os meses. O que mais lhe chamou a atenção, no entanto, foram as rodas formadas por Mestra Doci. “Ela ia às comunidades, chamava a gente para conversar, perguntava sobre os nossos sonhos. E a gente dizia que não tinha sonho. Ela perguntava se a gente tinha terminado os estudos, e a gente dizia que sim, porque tinha feito a 4a série e já sabia ler”, lembra. “Quando entendi o movimento da autonomia, foi um encantamento.”
A mestra, então, começou a despertar naqueles adolescentes aquilo que eles gostavam de fazer e não faziam mais — dançar quadrilha, ciranda, coco de roda, por exemplo. Três anos depois das primeiras quadrilhas, lá estava Penhinha, ao lado de outros jovens, dando oficinas para crianças e adolescentes, trabalhando “o despertar do sonho, o acreditar que a gente pode construir projetos, dialogar sobre ideias.” .
Cada um escolheu o que queria ensinar. Penhinha decidiu se dedicar às questões relacionadas a literatura, patrimônio, aos saberes de tradição oral. Outros se identificaram com outros temas, e assim se formou o grupo de 12 jovens educadores sociais do projeto, que começou em 2008 com o nome de Ecoeducação e foi ganhando complementos com o passar do tempo: virou Ecoeducação e Cultura, depois Ecoeducação, Cultura e Memória, e hoje é Ecoeducação, Cultura, Memória e Tecnologia.
Meio ambiente
“A Olho do Tempo tem uma linha de atuação transversal, que permeia a questão do meio ambiente”, ressalta a griô aprendiz. “Como é uma área de quilombo, rodeada de rios, a comunidade teve um ciclo de fartura, do viver bem, mas perdeu isso. Com a construção das indústrias, o rio em que a gente bebia água começou a escurecer.”
Partindo do meio ambiente, eles trabalham questões como identidade cultural, afetividade, respeito e representatividade, em atividades que envolvem música, dança, teatro, audiovisual, cultura digital. “Nossa missão é provocar as pessoas para que elas possam pensar, se relacionar, brincar sobre o conhecimento que elas têm”, destaca Penhinha.
A escola atende 150 crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos. “Hoje temos um grupo de meninos que são liderança na instituição. E é nossa missão potencializar esses adolescentes para dar continuidade ao trabalho”, destaca a jovem educadora, que sonha cursar Pedagogia numa universidade federal. “Minha caminhada no projeto foi muito significativa, eu me considero resultado dela. Mas não vou ficar na instituição o resto da vida. Vou dar meu lugar para outros jovens aprenderem o que aprendi.”
Cultura de base
Convencida de que a mobilização precisa vir da base, ela diz que é preciso refletir sobre o legado dos mestres, sobre a cultura oral, sobre o que a juventude não conhece. “Não dizemos que a cultura morre. Falamos em adormecimento. Mas existe adormecimento que não tem volta”, alerta.
Questões como o preconceito, a violência, também são temas de debates constantes. Recentemente, Penhinha enfrentou uma situação de racismo dentro de uma loja, mas passou longe da autopiedade. “Tive pena foi da pessoa que estava fazendo aquela reflexão sobre a minha cor, o meu cabelo, o jeito que me visto. Fiquei pensando: o que está acontecendo? Por que essa cultura de ódio, de superioridade, de eu sou melhor que você?”, questiona. “Mas eu tenho esperança de que isso melhore, de que a gente consiga orientar cada criança, de que a gente consiga fazer a nossa parte. A cultura é o caminho para isso.”
Como ensina Doci, é a cultura que faz a educação ser leve. “Penhinha descobriu o mundo através da cultura”, observa a mestra, que “joga os meninos do penhasco” porque acredita que sua missão é ensinar o outro a pensar, ensinar a ler, ouvir, refletir e tomar suas próprias decisões. “Tem que ser assim, não se pode proteger demais um ser vivo, que precisa aprender com o corpo. Minha missão é ensinar que carne dói. Eu sou carne, eu sei que dói. Estou empenhada em cuidar dessas pessoas para que elas vivam menos dor do que eu vivi. Mas sempre dói.”
Doci diz que vai ensinando e, aos poucos, cada um vai chegando aonde tem que chegar. Hoje, todos os jovens que começaram ali crianças e se tornaram educadores sociais estão por aí se descobrindo, se arriscando, se aventurando. “Sonhamos juntos em roda”, destaca Penhinha, reverenciando os companheiros de trabalho um por um, assim como faz com a mestra, o pai (Marcos) e a meninada do Olho do Tempo que a acompanha nesta caminhada. Assim como Penhinha, Ivanildo, Flávia, Danielle, Sandra, Célia, Raquel, Bel, Déa, Thiago, Marcílio e Jânia também aprenderam a voar.
(*Texto atualizado em 21 de outubro de 2015)
Leia também:
Por IberCultura
EnEm 19, ago 2015 | Em Brasil | Por IberCultura
Cacau Arcoverde, o ponteiro que leva ao mundo a cultura do sertão
Faz uns 25 anos que Cacau Arcoverde dedica “o coração, o espírito e a carne” à música. O interesse vem de muito antes, dos tempos de menino, mas, profissionalmente, lá se vão duas décadas que ele roda o mundo com a missão que tomou para si: divulgar o legado dos mestres, a cultura popular nordestina, a percussão afro-brasileira. Ou, como ele diz, “desesconder a música verdadeira”.
 Brincante, percussionista, luthier, poeta, produtor musical, produtor fonográfico, artista visual e xilogravurista, 44 anos, Cacau Arcoverde (na certidão, Claudio José Moreira da Silva) é também arte-educador no Ponto de Cultura Orquestra Sertão, que funciona desde 2009 junto com a Associação Cultural Urucungo, em Arcoverde (PE). Ali, na cidade de 70 mil habitantes, a 250 quilômetros de Recife, ele ensina crianças e adolescentes a tocar e fabricar instrumentos de percussão (berimbau, alfaia, caxixi, xequerê). Também dá aulas de samba de coco e ciranda. Ensina a tocar, cantar e dançar, para que os meninos possam formar um grupo e se apresentar.
Brincante, percussionista, luthier, poeta, produtor musical, produtor fonográfico, artista visual e xilogravurista, 44 anos, Cacau Arcoverde (na certidão, Claudio José Moreira da Silva) é também arte-educador no Ponto de Cultura Orquestra Sertão, que funciona desde 2009 junto com a Associação Cultural Urucungo, em Arcoverde (PE). Ali, na cidade de 70 mil habitantes, a 250 quilômetros de Recife, ele ensina crianças e adolescentes a tocar e fabricar instrumentos de percussão (berimbau, alfaia, caxixi, xequerê). Também dá aulas de samba de coco e ciranda. Ensina a tocar, cantar e dançar, para que os meninos possam formar um grupo e se apresentar.
Cacau é o coordenador técnico do Ponto de Cultura Orquestra Sertão. O irmão Lula Moreira, também instrumentista (toca violão, viola de 12 cordas, pífano), responde como coordenador-geral. Os dois começaram cedo na música, incentivados pelo pai, João José da Silva, que não tocava nenhum instrumento, mas tratou de colocá-los na percussão de uma escola de samba local, a Tamborins de Ouro.
“A influência artística veio dos avós”, conta Cacau. “Meu avô por parte de mãe era vaqueiro e cantava coco. Minha avó era mulher rendeira. Por parte de pai, meu avô era do maracatu de baque solto, cortador de cana na Zona da Mata. Não tive nenhum tio artista. Meu pai não era músico, mas colocou a gente para estudar, para tocar percussão na escola de samba e na banda marcial. Dali entrei na capoeira e comecei a tocar o berimbau, os instrumentos todos. Uma coisa foi se ligando a outra.”
A xilogravura, por sua vez, veio ligada à confecção dos instrumentos. “Eu fabricava os instrumentos e pintava. Um dia, um artista visual do Ceará olhou e disse: ‘Você pinta telas no instrumento, pinte telas também’. Aí comecei a pintar e não parei mais.” Hoje, Cacau faz capas de cordel e mandalas, escreve poesia, canta, compõe, mantém uma produtora, um selo musical (Radiante Records) e uma webradio para divulgar o trabalho dele e de outros 26 artistas independentes, como Zabé da Loca e os Rabequeiros de Pernambuco.
Na praça
O trabalho com meninos em situação de rua começou há 20 anos, quando ele morava em Natal (sim, Cacau já morou em um monte de lugares). “Em 1994, 1995, eu fazia oficinas num projeto chamado Casa na Praça, que tinha o apoio da prefeitura da cidade. Para tirar os meninos da rua, porque eles ficavam cheirando cola, eu ensinava percussão, capoeira, fabricação de instrumento afro-brasileiro. Ensinava a fazer berimbau, caxixi”, conta.
“Era uma época em que a gente não tinha apoio, não tinha as políticas públicas de hoje. Às vezes a gente não via resultados mais eficazes porque os projetos acabavam. Ainda hoje, quando muda a gestão, por questões políticas, ou ‘egoísticas’, o social pena. Não era para ser assim. Independentemente do partido, quando o projeto está fazendo bem à sociedade, deveria ter continuidade, mesmo tendo sido iniciado por uma gestão diferente.”
Cacau diz que começou a trabalhar com crianças e adolescentes por alguns motivos. Um deles foi a percepção de que a arte de luteria estava em extinção no que dizia respeito à fabricação de instrumentos percussivos. Outro foi o desejo de ampliar o acesso à cultura aos menos favorecidos, desenvolvendo projetos de musicalização e fabricação de instrumentos afro-brasileiros, “divulgando ritmos e danças do nosso Brasil, que é um grande celeiro de culturas tradicionais”.
- Xilogravura de Cacau Arcoverde
- Xilogravura de Cacau Arcoverde
- Mandala de Cacau Arcoverde
Transcontinental
Integrante da primeira formação do grupo Cordel do Fogo Encantado, Cacau Arcoverde está à frente do coletivo Jaraguá Mulungu desde 1999. Dedicado a divulgar os ritmos do sertão, as “sonoridades transcontinentais”, segue a linha de mestres como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Ary Lobo e Moacir Santos.
Nascido e criado em Arcoverde, ele voltou a morar lá há 10 anos, depois de passar por Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Amazonas e rodar o mundo apresentando os ritmos nordestinos e afro-brasileiros. Tocou na Broadway, em Nova York; ministrou oficinas de percussão na Inglaterra, na França, na Alemanha e na Suécia; dirigiu espetáculo apresentado nas Paraolimpíadas de Londres.
Em 2014, contemplado em edital do Micsur (Mercado de Indústrias Culturais), apresentou-se em Mar del Plata, na Argentina, e voltou entusiasmado com a experiência. “Sempre me preocupou o fato de o Brasil estar na América Latina e ser o único país a falar português. Seria muito bom se falássemos o espanhol, se soubéssemos mais das culturas tradicionais, dos povos originários dos outros países latinos. Há pontos de similaridade, indígena, quilombola, há muita coisa que tem a ver com a gente. É preciso integrar.”
(*Texto publicado em 19 de agosto de 2015)
Saiba mais:
www.cacauarcoverde.com
www.catimbau.com.br
Ouça:
www.myspace.com/cacauarcoverde
www.myspace.com/estrelaproducoes
www.myspace.com/jaraguamulungu
https://soundcloud.com/estrelaproducoes
https://soundcloud.com/radianterecords
Entre em contato:
cocosideral@gmail.com